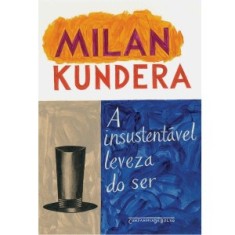Na última sessão do dia 07 de outubro de 2010, o grupo reuniu-se no prédio do IFCH, para dar continuidade à leitura do texto Vanguarda e Kitsch de Clement Greenberg. Estavam presentes no encontro os pesquisadores: Bárbara, Bruna, Iara, Pasini, Prof. Dr. Francisco, Prof. Dr. Gerson, Ester e Tarso os representantes da “comunidade em geral”.
O Kitsch e a falsa promessa
As discussões da sessão giraram em torno da simultaneidade do surgimento do fenômeno cultural kitsch, às Vanguardas. Considerando que esse tipo de manifestação, encarado por muito tempo como algo natural, merece ser examinado com atenção, visto que o Kitsch de certa forma mostra-se como cultivador da insensibilidade perante valores genuínos da cultura, usando como matéria-prima vis simulacros da mesma, que é a fonte de seus lucros.
 De acordo com Caldas (1999, p. 50-51-52), após a revolução industrial, com o capitalismo avançado e a implantação oficial da cultura burguesa, estabeleceu-se um forte desejo de respeitabilidade, ou seja, uma vontade de ascensão social. Isso quer dizer que, os camponeses que se estabeleceram nas cidades, formando a nova classe dominante, desejavam aquilo que a cultura tradicional da cidade oferecia, porém não havendo tempo e conforto suficientes para o desfrute desta, passaram a exigir da sociedade um tipo de cultura mais adequado a seu próprio consumo. Assim, a busca pela instituição de valores próprios subtraiu-se do cidadão, o qual agora aspira por meio do consumo exagerado, a genuinidade que não pode alcançar. Em vista disso o imaginário materializa-se através do objeto adquirido, mas a legitimidade almejada perde-se com obtenção da réplica.
De acordo com Caldas (1999, p. 50-51-52), após a revolução industrial, com o capitalismo avançado e a implantação oficial da cultura burguesa, estabeleceu-se um forte desejo de respeitabilidade, ou seja, uma vontade de ascensão social. Isso quer dizer que, os camponeses que se estabeleceram nas cidades, formando a nova classe dominante, desejavam aquilo que a cultura tradicional da cidade oferecia, porém não havendo tempo e conforto suficientes para o desfrute desta, passaram a exigir da sociedade um tipo de cultura mais adequado a seu próprio consumo. Assim, a busca pela instituição de valores próprios subtraiu-se do cidadão, o qual agora aspira por meio do consumo exagerado, a genuinidade que não pode alcançar. Em vista disso o imaginário materializa-se através do objeto adquirido, mas a legitimidade almejada perde-se com obtenção da réplica.
O kitsch finge não exigir nada de seus consumidores além do seu valor de custo. Não causa o mesmo impacto de uma obra de arte, mas procura imitar seus efeitos. Sua presença fabricada finge ser capaz do que na verdade não é. Apesar de não possuir aura, tem propriedade de democratizar o gosto sem engrandecer o desejado, ou seja, o original. Clement Greenberg (2001, p. 32) afirma que “o kitsch é mecânico e funciona mediante fórmulas. O kitsch é experiência por procuração e sensações falsificadas”. Isto é, o kitsch imita os efeitos da arte, mostrando-se como a transfiguração de uma característica estética. A falsidade de sua promessa efetiva-se no não cumprimento da mesma.
 Deste modo, o kitsch diferencia-se da obra de arte porque, com o passar do tempo, produz um efeito apaziguante, que acomoda o espectador, cumprindo com a expectativa do gosto fácil. Já a obra de arte é de qualidade inquietante, perturbadora, está sempre nos convidando para um novo desafio, um novo olhar. Conforme Berger (1999, p. 21-22), ao vermos a imagem da Monalisa reproduzida em uma camiseta, temos a impressão de que a unicidade da imagem dilui-se e seu significado muda, multiplicando-se e fragmentando-se em muitos outros significados. Apesar de todas essas distorções do original, a pintura verdadeira continua em certo sentido, sendo única. O que nos impressiona não é mais o que a imagem representa, mas sim o fato de ser o original de uma reprodução.
Deste modo, o kitsch diferencia-se da obra de arte porque, com o passar do tempo, produz um efeito apaziguante, que acomoda o espectador, cumprindo com a expectativa do gosto fácil. Já a obra de arte é de qualidade inquietante, perturbadora, está sempre nos convidando para um novo desafio, um novo olhar. Conforme Berger (1999, p. 21-22), ao vermos a imagem da Monalisa reproduzida em uma camiseta, temos a impressão de que a unicidade da imagem dilui-se e seu significado muda, multiplicando-se e fragmentando-se em muitos outros significados. Apesar de todas essas distorções do original, a pintura verdadeira continua em certo sentido, sendo única. O que nos impressiona não é mais o que a imagem representa, mas sim o fato de ser o original de uma reprodução. Sobre a existência de uma tradição Kitsch
Questões em torno do surgimento do kitsch levam-nos a questionar se não haveria uma possibilidade de tradição “Kitschiana”. A semelhança de algumas manifestações da antiguidade, em comparação com manifestações ditas pós-modernas, não justificaria ousar considerá-los participantes deste mesmo fenômeno. Os produtos de épocas pré-capitalistas eram criados para única finalidade, ou seja, a escala de reprodução em massa não existia e somente a aristocracia era possuidora de determinados produtos, como por exemplo, as obras de arte. Segundo Berger (1999, p. 85-92), ao se comprar uma pintura, adquiria-se também a aparência daquilo que ela representava. Tal aquisição refletia a própria nobreza do comprador. As obras de arte celebravam a riqueza; a própria pintura era capaz de demonstrar o quanto era desejável o que o dinheiro podia comprar. Havia uma honestidade na obtenção das coisas, pois o acesso era bastante restrito.
Questões em torno do surgimento do kitsch levam-nos a questionar se não haveria uma possibilidade de tradição “Kitschiana”. A semelhança de algumas manifestações da antiguidade, em comparação com manifestações ditas pós-modernas, não justificaria ousar considerá-los participantes deste mesmo fenômeno. Os produtos de épocas pré-capitalistas eram criados para única finalidade, ou seja, a escala de reprodução em massa não existia e somente a aristocracia era possuidora de determinados produtos, como por exemplo, as obras de arte. Segundo Berger (1999, p. 85-92), ao se comprar uma pintura, adquiria-se também a aparência daquilo que ela representava. Tal aquisição refletia a própria nobreza do comprador. As obras de arte celebravam a riqueza; a própria pintura era capaz de demonstrar o quanto era desejável o que o dinheiro podia comprar. Havia uma honestidade na obtenção das coisas, pois o acesso era bastante restrito.
Podemos supor que o kitsch toma para si valores de uma tradição cultural privilegiada, mas em sua estrutura não possui uma tradição. Sua aparição concretiza-se somente quando há possibilidade de compra, de obter um objeto semelhante ao original. E isso ocorre na era capitalista, com o advento da indústria cultural. O kitsch se constitui em elemento acessível, sendo produto de fácil obtenção, encontrando-se ao alcance de todos e não mais, apenas por uma parcela elitizada da sociedade.
Há uma cultura Kitsch original?
É possível o kitsch ser algo original? Apesar de se traduzir como a cópia ou imitação quase grotesca de um original, nem todo produto kitsch mostra-se desprovido de valor. O kitsch pode ser considerado como algo original, possuindo, em certos casos, um autêntico sabor popular. São os exemplos do altar do candomblé, dos santos de umbanda, expressões que usam de objetos para representar entidades. Apesar dos objetos serem em sua forma aparentemente vazios de significado, neles são depositadas forças, cargas simbólicas que lhe atribuem sentidos. Sua aura é criada e reforçada na prática do ritual.
Referências
BERGER, John. Modos de ver. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.
BERGER, John. Modos de ver. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.
CALDAS, Waldenyr. Uma utopia do gosto. São Paulo: Brasiliense, 1999.
GREENBERG, Clement. Vanguarda e kitsch. In: GREENBERG, Clement et al. Clement Greenberg e o debate crítico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. p. 27 – 43.